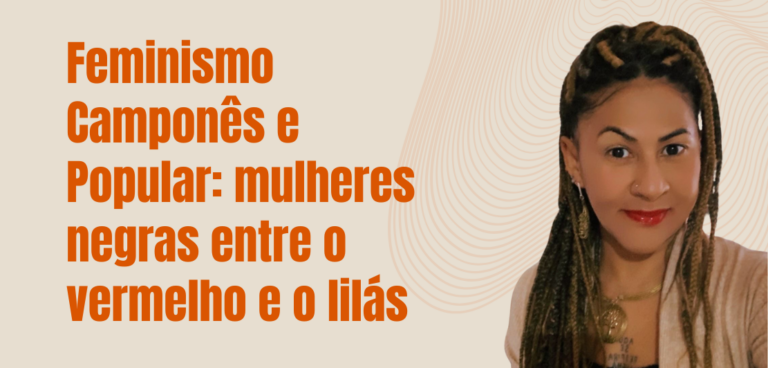
A luta das mulheres negras no Brasil se entrelaça com a diversidade de resistências que pavimentaram e pavimentam a história política, construída a ferro e fogo. Assim, chegamos nesse tempo histórico, que nos tocou viver e lutar, com toda essa herança ancestral. Esse tempo se caracteriza pelo acirramento de várias crises do capitalismo. Além disso, vemos o avanço sem precedentes, de ideias neofascistas, da destruição ambiental e da crescente violência contra pessoas negras, indígenas, quilombolas, LBTQIA+, comunidades tradicionais, povos de terreiro, e a classe trabalhadora, em geral.
Esse tempo também é caracterizado por pressões objetivas da economia de mercado global e isso impacta significativamente as relações sociais e familiares que organizam a produção e distribuição de bens, acentuando a exploração das mulheres e a violência de gênero e raça. Neste sentido, é preciso pensar acerca do impacto das relações sociais, políticas, econômicas e culturais, na vida das mulheres negras camponesas.
Este artigo propõe uma reflexão sobre os desafios deste grupo na defesa da vida e da Reforma Agrária Popular na atualidade. Essa análise não se faz sozinha, mas num caminhar que é coletivo, em meio a militância no MST e nas organizações do campo popular, que constroem barricadas em defesa incondicional da vida.
Assim, trazemos elementos que partem da ideia de que latifúndio, racismo e patriarcado estruturam o capitalismo no Brasil. Abordamos também a importância do fortalecimento da compreensão de gênero e raça como categorias basilares, das opressões impostas às mulheres as negras camponesas, e apontamos os desafios colocados a partir do feminismo camponês e popular.
Latifúndio, Racismo e Patriarcado: feridas abertas da nossa história
A passagem dos vários períodos históricos consolidou uma forma de ser da sociedade brasileira, deixando-nos raízes ou heranças da construção do país, que se firma no jeito de ser da sociedade e que vêm buscando se consolidar como cultura política ou tradição cultural dominante.
Nessa tradição, o latifúndio, o racismo e o patriarcado se constituem em feridas que atravessam a história do Brasil. Elas têm início ainda no período colonial, quando a população indígena começou a ser expropriada de seus territórios e se consolidou a partir de 1850, quando a opção da elite dominante do período foi tornar a terra em mercadoria, iniciando o processo de expulsão da população negra do campo. A organização e consolidação do latifúndio, a produção de commodities para exportação e a oferta de mão de obra escravizada e assalariada foram e são estratégias fundamentais para assegurar como o capitalismo se viabiliza no Brasil.
Isso coloca a questão agrária em uma das mais graves e contundentes manifestações da problemática social no campo. Esse processo tem afetado intensamente essa população, principalmente, mulheres negras. Elas estão relegadas à pobreza, submetidas a distintas explorações, aprofundadas pelo patriarcado e o racismo, no que se conforma hoje como campo brasileiro.
A dupla exploração da mulher negra durante o período colonial – por um lado, na produção, e, por outro, na reprodução da força de trabalho, – aponta que as opressões se atualizam como imperativo para a implantação do modelo de acumulação contemporâneo. Diante disso, não há outro caminho que não seja dispor de uma grande energia para superar as dificuldades impostas na luta por terra, território e direitos.
Assim, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil em seus primórdios teve como motor o trabalho escravizado, ou melhor, a mercantilização da vida de seres humanos. Esse processo de transformação de seres humanos em mercadoria resultou no racismo e na manutenção do latifúndio. Partindo deste aspecto, afirmamos que gênero e raça são questões estruturais para a leitura da luta de classes no Brasil e se firmam enquanto identidades políticas.
Raça e Gênero: identidades políticas que se afirmam na luta de classes
Aqui, entende-se identidade enquanto fonte de significado e experiência de um povo. Para Castells, toda e qualquer identidade é construída. A principal questão é entender como, a partir de quê, porquê e para quem essa construção acontece. Assim, a identidade de resistência surge a partir dos sujeitos em situação de opressão, levados a processos de resistência. Assim, afirmamos: raça e gênero podem são identidades políticas importantes na luta de classes. Elas não apenas influenciam a experiência individual e coletiva de opressão e desigualdade, mas também moldam as dinâmicas de poder dentro da sociedade.
A luta de classes, tradicionalmente, foca nas relações econômicas e na exploração da classe trabalhadora. Mas as interseccionalidades de raça e gênero revelam como diferentes grupos enfrentam opressões múltiplas e específicas.
Ser negra e mulher no Brasil, repetimos, é ser objeto de tripla discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a colocam no nível mais alto de opressão. […] ela se volta para a prestação de serviços domésticos junto às famílias das classes média e alta da formação social brasileira. Enquanto empregada doméstica, ela sofre um processo de reforço quanto à internalização da diferença, da subordinação e da “inferioridade” que lhe seriam peculiares. (Gonzalez, 2020, p. 58), nesse aspecto, para pensar essa a realidade da mulher negra, no Brasil, é preciso considerar sua condição de classe e de raça, pois essas dimensões estão intrinsecamente ligadas às suas experiências de vida.
A compreensão das identidades de raça e gênero são cruciais para o entendimento dos desafios enfrentados pelas mulheres negras camponesas.
Aquelas que fazem parte da luta pela reforma agrária também buscaram se organizar por dentro dos movimentos populares do campo. Para modificar as relações de gênero e as estruturas de subordinação no espaço de militância e na organização da família camponesa, elas politizaram as demandas específicas e as transformaram em interesses “estratégicos de gênero”.
Na concepção do Feminismo Camponês e Popular, a defesa incondicional da vida
Para a inserção da mulher na luta social e a organização de um espaço próprio, dentro dos movimentos sociais mistos ou como movimento social autônomo, o contato com o discurso feminista é essencial para a politização da situação de subordinação da mulher dentro da divisão sexual do trabalho e a construção de estratégias para a superação das assimetrias de gênero nas organizações sociais, nas políticas públicas, no espaço familiar.
Neste contexto, as mulheres negras pautaram como um elemento central, o direito dos povos do campo de produzirem o próprio alimento em seu território. Além disso, acrescentaram a dimensão da saúde humana, que perpassa pela crítica ao modelo de agricultura dependente de agrotóxicos e de plantas geneticamente modificadas. No debate da soberania alimentar, as mulheres camponesas acrescentam as questões da igualdade de gênero e de raça, somando uma perspectiva feminista popular à consciência de classe, que implica transformações estruturais na sociedade.
O foco principal da soberania alimentar é a produção de alimentos pelos povos que realmente trabalham na terra. Por isso, vai além da compreensão da segurança alimentar defendida pelo agronegócio, como garantia da produção e distribuição de alimentos para todos. O direito e a autonomia na produção do alimento implicam o acesso à terra, o que transforma o próprio alimento em território de disputa (FERNANDES, 2009).
O processo da participação das mulheres na luta por reforma agrária no Brasil possibilitou a construção de bases para a atual compreensão acerca do feminismo camponês e popular. “Os conceitos que surgiram no discurso feminista foram principalmente conceitos de luta, não baseados em definições teóricas trabalhadas por uma mente ideológica brilhante do movimento” (MIES, p.98 , 2022).
Esse conceito se baseia na materialidade da vida das mulheres camponesas, indígenas e negras latino-americanas, visível em suas pluralidades e diversidades. Ademais, parte de ações políticas das mulheres da Via Campesina no enfrentamento ao capital no campo brasileiro surgem em busca de articular as lutas das mulheres no campo com as questões sociais e políticas mais amplas, focando na realidade em que atuam.
“Hoje, diante do novo processo de acumulação primitiva, as mulheres são a principal força social de impedimento de uma completa comercialização da natureza, enquanto promovem o uso não capitalista da terra e formas de agricultura de subsistência. As mulheres são as agricultoras de subsistência do mundo”. (FEDERICI, 2019, p. 385)
Entre o vermelho e o lilás, estão mulheres negras camponesas que, a partir das lutas do seu tempo, precisam se conceber enquanto sujeitos para se fortalecerem e para fortalecerem a luta pela vida e pela Reforma Agrária Popular.
FEDERICI, Silvia. “O feminismo e a política dos comuns”. In: BUARQUE DE HOLLANDA, Heloisa (Org.). Pensamento feminista brasileiro: formação e contexto . Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. p. 379-393
GONZALEZ, L. Por um feminismo afro-latino-americano Organização: Flavia Rios e Márcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
FERNANDES, Bernardo Mançano. Sobre tipologias de territórios. In: SAQUET, Marcos Aurélio; SPOSITO, Eliseu Savério (Org.) Território e Territorialidades: teorias, processos e conflitos. 1ª ed. São Paulo; Expressão Popular, 2009. p. 197-216.
Mies, Maria. Patriarcado e acumulação em escala mundial [livro eletrônico] : mulheres na divisão internacional do trabalho / Maria Mies ; prefácio Silvia Federici. — 1. ed. — São Paulo :Ema Livros : Editora Timo, 2022. PDF.
Rosa Negra é mãe, poeta, feminista, militante do MST e doutoranda no Programa de Geografia Humana da USP.
Curta Pelo Facebook
Acompanhe pelo Instagram
Conheça pelo Youtube
Fale conosco
Entre em contato para tirar dúvidas ou conhecer
mais sobre o trabalho do instituto.
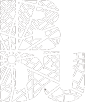
SOBRE
O IBDU é uma associação civil com atuação nacional que reúne profissionais, pesquisadores e estudantes para discutir, pesquisar e divulgar informações sobre o Direito Urbanístico.
VENHA CONHECER
IBDU
Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico
Rua Araújo, 124, República São Paulo | SP CEP: 01220-020
APOIADOR

