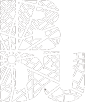Como o enquadramento de risco afeta famílias que, retiradas de casa, trocam o risco de deslizamentos pela desagregação familiar, desemprego e violência
* Por Ricardo Moretti, Ruth Ataíde, Katia Canil, Celso Carvalho, Dulce Bentes
A forma como tem sido feito o enquadramento de riscos nos municípios brasileiros provoca sérios problemas, em especial para as populações mais pobres e vulneráveis. Predominantemente baseia-se na identificação e hierarquização dos locais potencialmente afetados por uma ameaça, seja de ordem natural ou tecnológica. Cria-se um mapa com a classificação do grau de risco (Baixo, Médio, Alto e Muito Alto) acompanhado de um dossiê com a indicação de obras e medidas, frequentemente genéricas, para sua redução.
Esta abordagem leva, infelizmente, ao foco na remoção das pessoas das áreas de risco e não à eliminação da condição do risco. Ao apontar uma situação problemática de risco, usualmente surge a tendência de simplesmente eliminar a exposição, com a retirada e demolição das moradias envolvidas. No entanto, essa abordagem pode trazer outros riscos, de mesmo porte.
Uma moradia construída sobre uma encosta instável se, por um lado representa uma situação de risco de deslizamento para seus moradores, por outro lado é uma solução de abrigo da família, de acesso às redes de proteção social, emprego, escola, sistema de saúde etc.
Dessa forma, não é aceitável uma solução que, ao eliminar a exposição ao risco de deslizamento, produza a exposição aos riscos de desagregação familiar, ao desemprego, à retirada de crianças e adolescentes das escolas, à fragilidade de saúde dos idosos, à submissão à violência urbana, entre outros.
As famílias socialmente mais vulneráveis são normalmente aquelas que são levadas a conviver com maiores riscos. Famílias que moram em áreas problemáticas, mas centrais, que interessam ao mercado imobiliário, usualmente são reassentadas em áreas distantes, onde perdem grande parte das possibilidades de trabalho e renda que dispunham anteriormente. Rompem-se os laços sociais de proteção e não são raros os casos em que a família é forçada a voltar para o local de origem, em condições ainda muito piores do que vivia anteriormente.
Em outros casos, as famílias recebem uma ajuda mínima, como o auxílio aluguel, que as levam a buscar outras áreas para morar, por iniciativa própria, em locais igualmente problemáticos e de grande exposição ao risco. Ou seja, há uma troca do tipo de risco, há uma troca do endereço do risco, mas o indivíduo e sua família permanecem em risco.
As origens do problema
O conceito de risco é entendido como a probabilidade da ocorrência de uma ameaça ou evento e sua consequência.
As consequências de natureza psicológica manifestam-se independentemente da probabilidade de ocorrência do evento adverso ser grande ou pequena. Se há risco, mesmo que baixo, surge uma pressão psicológica para que se tomem medidas urgentes para que ele seja eliminado. Mesmo que um relatório de enquadramento de risco seja muito bem elaborado e dê grande destaque para as obras e medidas necessárias para sua redução, a reação usual é de eliminar o risco, ou seja, prevalece a retirada dos moradores. O risco pode ser considerado uma palavra de grande impacto, que uma vez pronunciada, desencadeia reações de toda ordem…
No campo jurídico o assunto é dramático. Um juiz ou promotor público, ao tomar contato com um relatório de enquadramento de risco, tende a agir no sentido de que se tomem medidas imediatas para seu enfrentamento, e nem podia ser diferente. O problema é que, muitas vezes, prevalece a perspectiva de “eliminar o risco”, como se eles pudessem simplesmente desaparecer. Esta orientação é, inclusive, contrária à legislação federal que trata dos procedimentos para prevenção de desastres. De fato, a Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, em seu artigo 3ºB, estabelece que o Município deve priorizar a execução de medidas de redução de risco em relação à remoção das moradias.
Recomendações
Entende-se que, neste contexto, é aconselhável que o foco se volte para a identificação de medidas prioritárias de qualificação de segurança das áreas e das populações expostas ao risco.
Essa abordagem baseia-se na gradativa redução de riscos, ou seja, reduzir a exposição exagerada ou desnecessária por meio de um planejamento urbano que considere as limitações, as fragilidades físicas e ambientais dos terrenos, que crie sistemas de prevenção e de alerta, que melhore o preparo para ação no caso de um acidente, para redução das vulnerabilidades e, também, para o aumento da resiliência, durante e após uma eventual ocorrência. O objetivo é o mesmo – reduzir os riscos -, e pode até envolver alguns reassentamentos, mas o foco é voltado para identificação do que é prioritário fazer para qualificar a segurança da área.
Na abordagem de qualificação de segurança, se há um aterro de entulho lançado a meia encosta com risco de atingir uma residência situada abaixo, o foco é na remoção urgente do entulho, o que pode prevenir a necessidade de reassentamento definitivo da família, com todos os traumas que isto acarreta.
Por exemplo, atualmente na cidade de Natal, RN, existem diversos assentamentos precários considerados problemáticos pelo último enquadramento de risco, realizado 11 anos atrás. É evidente a necessidade de atualizar os estudos, com novo enfoque na qualificação de segurança.
No entanto, o enquadramento de 2008 continua sendo utilizado, com destaque às duas comunidades que estão situadas em áreas da cidade de interesse do mercado. Em uma dessa comunidades, desencadeiam-se iniciativas de remoção dos moradores para bairros distantes, apesar de estudos recentes mostrarem que existe a possibilidade de requalificação de segurança da área, que foi constituída há pelo menos 50 anos pelos seus moradores.
As duas abordagens têm mais pontos de convergência do que de divergência. Mas, enquanto prevalecer um comportamento predominantemente emocional sobre a existência de riscos, que se manifesta apenas quando há vítimas fatais e veicula-se o assunto pela mídia, a diferença não é sutil.
Considera-se estratégico que o foco seja a qualificação de segurança, ou seja, a remoção do risco e não necessariamente a remoção das casas, com desdobramentos de novos e maiores riscos para as famílias.
Ricardo Moretti é professor da UFABC, doutor em Engenharia de Construção Civil e Urbana pela Universidade de São Paulo e colaborador da rede BrCidades.
Ruth Ataíde é Arquiteta e Urbanista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e colaboradora da rede BrCidades.
Katia Canil é professora adjunta da Universidade Federal do ABC (UFABC), integrante do grupo de pesquisa e vice-coordenadora do Laboratório de Gestão de Riscos da UFABC (LabGris) e colaboradora da rede BrCidades.
Celso Carvalho é ex-diretor do Ministério das Cidades (2005 – 2014), ex-chefe da Secretaria do Patrimônio da União em Santos ( 2015-2017) e coordenador da rede BrCidades.
Dulce Bentes é Professora Associada do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e colaboradora da rede BrCidades.
Texto publicado originalmente no Justificando.