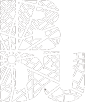Na primeira metade do século XX, o poder da Companhia Docas de Santos (CDS) sobre a cidade era muito grande, gerando antipatia na população e fazendo com que a empresa fosse conhecida como “o Polvo”. Dizia-se, então, que o superintendente da companhia mandava mais na cidade que o próprio prefeito.
*Por José Marques Carriço
O poder repressor da empresa, com relação ao trabalho, também era enorme, como na greve de 1908, que resultou na morte de 8 trabalhadores e cerca de 100 feridos. Atravessando algumas crises e duas guerras mundiais, o Porto foi ampliado, tornou-se o mais importante do país e suas cargas foram se diversificando à medida em que São Paulo se industrializava. Mas, com a aproximação do final da concessão, na década de 1970, a CDS deixou de investir no complexo portuário, sucateando-o e provocando grave crise na cidade.
No que respeita à política portuária nacional, em 1975, foi criada a Empresa de Portos do Brasil S/A (Portobrás), no contexto da política estatizante que caracterizou a ditadura militar. Neste quadro inseriu-se a criação, em 1980, da CODESP, empresa federal que assumiu a gestão do Porto, com o final da concessão à CDS.
O processo de sucateamento do Porto só não foi mais grave graças aos investimentos realizados pela Portobrás, como a construção do “Corredor de Exportação”, no contexto da transformação do país em importante exportador de grãos, e principalmente, com a extensão do complexo para a margem esquerda do estuário, no distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá, acompanhada de implantação do ramal ferroviário de Conceiçãozinha, da Rede Ferroviária Federal. Esses grandes investimentos garantiram a pujança do complexo portuário santista naquele período de desmonte da CDS.
A partir dessa época, importantes transformações produtivas ocorreram, em função da crise da dívida externa brasileira. Com o abandono das metas do II Plano Nacional de Desenvolvimento, grandes investimentos estatais foram suspensos provocando relevantes impactos econômicos e socioespaciais, sobretudo nas áreas mais urbanizadas. A região de Santos sofreu especialmente os efeitos dessas transformações, que atingiram suas principais atividades econômicas, a indústria de Cubatão e o Porto de Santos.
Portanto, a criação da CODESP ocorreu nos estertores do regime militar, quando a capacidade de investimento estatal já estava em muito comprometida e o setor portuário enfrentava a interrupção de investimentos estatais em infraestrutura. No início da década de 1980, a crise também provocou expressivo desemprego no setor industrial da região, majoritariamente composto pelas indústrias de base de Cubatão, agravando o quadro e reduzindo a participação econômica da região no estado e no país.
O Polvo e os braços neoliberais
Devido à crise que afetou o País, os anos 1980 foram conhecidos como “A década perdida”. É nesse caldo de cultura que surgem no Brasil as políticas neoliberais em curso nos países centrais do capitalismo na época. Essa ideologia, consubstanciada no “Consenso de Washington”, provocou significativa transformação na economia nacional, resultando em mudanças regulatórias que atingiram o setor portuário. Nesse contexto, em 1990, foi extinta a Portobrás, empresa pública criada em 1975 e que administrava os portos federais, auxiliando na execução da Política Portuária Nacional. Em 1993, foi sancionada a Lei nº 8.630, chamada de “Lei de Modernização dos Portos”. Esse processo teve graves desdobramentos sociais em Santos e região, destacando-se, em 1991, a mais importante greve do setor posterior à redemocratização, a qual provocou a demissão, posteriormente revertida, de mais de cinco mil trabalhadores portuários.
A chamada “modernização dos portos” resultou na ampliação da produtividade do cais santista, durante a década de 1990, sem que essa fosse acompanhada pelo aumento de empregos e da massa salarial do setor. Essas mudanças impactaram a renda das famílias e a economia regional, com efeitos negativos para a qualidade de vida. Na verdade, as mudanças estruturais desse período resultaram em mais perda de dinamismo da região, já bastante afetada pela crise da década anterior. É esse o pano de fundo da institucionalização da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), em 1996.
Durante os anos 1990, a redução dos investimentos estatais provocou sérios efeitos sobre a RMBS, implicando, também, importantes mudanças espaciais e reforço ao processo de segregação socioespacial, em curso desde sua inserção no modo capitalista de produção. Neste aspecto, destaca-se a transformação ocorrida no Porto de Santos, que impactou não somente a cadeia produtiva do setor, mas toda a economia regional.
Com a nova regulamentação, a Companhia das Docas do Estado de SP (CODESP), empresa federal responsável pela administração do Porto de Santos até então, afastou-se da operação portuária e assumiu o papel de planejamento e gestão do Porto, com possibilidade de conceder a exploração de terminais portuários à iniciativa privada, que resultou na fragmentação do território portuário em “lotes”, sob controle de distintas empresas concessionárias, cuja relação com a cidade é bastante desigual e em muitos casos deletéria. Neste aspecto, ressalta-se o progressivo nível de automação das operações, com perda ou precarização de postos de trabalho, além de impactos ambientais dos mais diversos, provocados diretamente ou indiretamente. Dentre os diretos, destaca-se a precariedade do controle ambiental do processo de embarque e desembarque de cargas de alguns terminais, e a demanda crescente de veículos de carga, com enorme reflexo no trânsito e na contaminação atmosférica.
No período, foi relevante, também, a indução à criação de uma cadeia de empresas de apoio, que se espalharam ao logo da faixa contígua ao Porto, degradando progressivamente os setores urbanos próximos. Neste caso, é marcante a incompatibilidade crônica entre os zoneamentos portuário e urbano, possibilitada pela histórica subordinação da administração municipal aos interesses econômicos subjacentes à atividade portuária, com reflexos profundos no esvaziamento da área central de Santos, na segunda metade do século XX.
A importância do Porto de Santos
Durante o século XX, impulsionado pela cafeicultura no oeste de São Paulo e posteriormente pela industrialização do estado, o Porto de Santos tornou-se o mais importante para a balança comercial brasileira, diversificando suas cargas e ampliando sua hinterlândia além das fronteiras nacionais. Mas na quadra atual, o maior complexo portuário do país enfrenta sérios desafios, afetando especialmente sua base territorial mais próxima, a RMBS.
Fragilidade da economia, mudanças no mercado internacional e fuga de cargas para outros portos, somados a uma notória crise de gestão, agravam o quadro de crise no complexo portuário santista, levando à queda de movimentação, na comparação com o exercício de 2018. De fato, os portos são muito suscetíveis a mudanças nas políticas externas e nacionais nos campos econômico, comercial e logístico. Assim, a implantação do Arco Norte, melhorias no Porto de Paranaguá e a guerra fiscal com Santa Catarina, cujos portos cresceram 53%, entre 2010 e 2017, vêm afetando a movimentação do cais santista e colocando em dúvida seu futuro.
Em meio a esse processo de fragilização, a Codesp está passando da esfera do Ministério da Infraestrutura para o da Economia, sendo autorizada a abrir seu capital. Portanto, a mais importante empresa portuária do país, poderá passar, ainda que parcialmente, para as mãos de investidores, absolutamente descompromissados com a base territorial do complexo portuário. Para compreender as repercussões desse processo, especialmente no tocante às interações entre economia, modelo de gestão e seus efeitos sobre a RMBS, é preciso recuperar a história do Porto de Santos.
Essa história pode ser dividida em quatro fases, sendo a primeira entre o início da colonização portuguesa, no século XVI, e o princípio da concessão à iniciativa privada, em 1988, que resulta na organização da Companhia Docas de Santos (CDS), em 1892, responsável pela construção do chamado “porto organizado”. A segunda fase corresponde ao princípio da extensão do modo de produção capitalista, até a década de 1930, quando as relações capitalistas de produção já predominam, com a formação do mercado unificado nacional, sob o comando de São Paulo. A terceira fase, correspondendo à consolidação e crise do estágio extensivo de produção, é marcada pelo fim da concessão privada e instituição do monopólio estatal, sob a ditadura militar, com a criação, em 1980, da Codesp, empresa federal que sucedeu a CDS, na administração e operação do Porto. Esse período se estendeu até 1993, quando ocorreu a grande mudança para o que se denomina “ambiente concorrencial”, passando a Codesp de operadora portuária a autoridade portuária, em meio a profunda crise do estágio extensivo de produção, que perdura até hoje.
O “porto organizado” de Santos foi produto da adaptação às necessidades da nova economia capitalista, que exigia profundas mudanças na estrutura institucional brasileira, atingindo as relações de produção entre os diferentes agentes econômicos nacionais e estrangeiros. A acumulação primitiva de capital ocorreu no país graças à expansão dos principais setores exportadores, sob o comando de proprietários de terras, mas também com a ação decisiva de intermediários de investidores internacionais, principalmente britânicos. Assim, a nova ordem nasceu sob a tensão entre o antigo regime a as forças liberalizantes, que propugnavam pela inserção do país na economia capitalista.
Há 150 anos, a concessão do Porto à iniciativa privada foi resultado da publicação de edital imperial, que previa a privatização do porto pelo prazo de 90 anos. Em seguida, com a publicação do Decreto nº 1.746, do secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, iniciou-se o processo de contratação, após concorrência, de um grupo de empresários cariocas, que, em 1892, já no período republicano, constituíram a CDS. A concessão obrigava a empresa a construir cais e armazéns, que vão reconfigurar o espaço urbano da atual área central de Santos, melhorando seu padrão sanitário, afetado por grave crise decorrente de moléstias oriundas da falta de saneamento. Com a construção dos primeiros 260m de cais, inaugurados no mesmo ano, a CDS torna-se o centro de grave crise política local, por contrariar os interesses dos proprietários dos trapiches, completamente removidos, em episódio que ficou conhecido com a “Guerra dos Trapiches”.
O decreto também outorgou à CDS o poder de desapropriar terrenos, o que garantiu a expansão do porto em direção à entrada do canal do estuário, com a construção do aterro dos Outeirinhos, viabilizado pela implantação de uma linha ferroviária, cuja função era transportar material retirado do maciço de morros da Ilha de São Vicente, onde se localiza a cidade de Santos. Essa e outras condições tornaram a CDS uma empresa extremamente poderosa, ao ponto de dificultar, durante anos, a extensão da malha viária da malha viária da cidade em direção à orla marítima, em função da existência dessa linha férrea, que cortava transversalmente a área urbana.
A relação do Porto com a cidade no contexto atual
Na década passada, com a adoção de política desenvolvimentista, apoiada na procura de construção, ainda que imperfeita, de um estado de bem-estar social, aliada a estratégias de reposicionamento do país no cenário geopolítico internacional, o Porto de Santos recuperou seu papel como elemento chave da cadeia logística brasileira e passou a apresentar progressivo aumento de movimentação. Os investimentos estatais retornaram ao cais santista, ainda que precocemente interrompidos pela crise política e econômica atuais.
Embora o novo governo tenha se esforçado por implementar uma condução da política portuária, que recuperasse o protagonismo do Estado, as estruturas criadas nos anos de política neoliberal continuavam latentes. A Agência Nacional dos Transportes Aquaviários (ANTAQ), agência reguladora criada em 2001, com forte peso político do setor privado, passava ao comando da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República (SEP), criada em 2007, a qual trouxe de volta alguns antigos funcionários da Portobrás, procurando resgatar uma visão estratégica do setor, a qual nem sempre era compatível com os interesses privados.
Remontam a esta época os últimos investimentos estatais relevantes realizados no Porto de Santos, como o primeiro trecho das avenidas perimetrais portuárias, a dragagem de aprofundamento do canal do Porto e a implantação de sistema de tratamento de água e esgotos. Do lado privado, o período foi marcado por importantes investimentos como a implantação dos terminais da Empresa Brasileira de Terminais Portuários (Embraport, atual DP World Santos) e da Brasil Terminais Portuários (BTP). O primeiro foi implantado fora da área do “porto organizado”, na área continental de Santos. O segundo foi implantado na área do antigo “lixão” do Porto, no bairro Saboó, após processo de remediação ambiental, que durou três anos e eliminou o maior passivo ambiental do complexo.
Nos anos de crescimento econômico, ficaram claros os impactos ambientais decorrentes da falta de controle adequado e da própria matriz de transportes nacional, excessivamente rodoviarista. Em 2013, o crescimento exponencial da safra de grãos do centro-oeste, cujo transporte é majoritariamente realizado por carretas, e problemas comerciais com a China, paralisaram os principais acessos do Porto, durante várias semanas, trazendo prejuízos enormes à região. Devido ao grande volume exportado, o “Corredor de Exportação” apresentou movimento intenso, com sérios problemas de emissão de particulados, nas operações de embarque de grãos. Ao mesmo tempo, o crescimento do mercado imobiliário de alta renda, em área contígua ao “Corredor de Exportação”, evidenciou a incompatibilidade entre a política municipal de desenvolvimento urbano e as precárias condições de operação de embarque de grãos, marcadas pela dispersão de particulados, com consequências deletérias para os bairros lindeiros.
Embora os impactos ambientais decorrentes das operações portuárias já estivessem presentes nos bairros operários de Santos, historicamente construídos ao longo do Porto, somente quando o mercado imobiliário produziu intensamente nesse bairro, a administração municipal resolveu agir de forma mais objetiva, alterando o zoneamento, o que suscitou pedido de medida cautelar em ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pela Presidência da República, que via na norma um risco à economia nacional. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao pedido da Presidência, por considerar que o município, ao legislar sobre o uso do solo em área do “porto organizado”, invadiu a competência da União, de “privativamente, legislar sobre o regime dos portos e explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, tais atividades”, declarando a norma inconstitucional em 2013. Outro aspecto importante, no tocante aos conflitos entre Porto e município, diz respeito à tendência de ocupação da área continental de Santos, cujo território é majoritariamente constituído por unidades de conservação e áreas de preservação permanente, como estratégia de ampliação do complexo.
Talvez a crise política, iniciada pelas jornadas de junho de 2013, tenha colocado em xeque o modelo de administração portuária urdido no curto período desenvolvimentista, entre 2003 e 2015, que culminou com a aprovação da Lei nº 12.815/2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta, pela União, de portos e instalações portuárias, e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, alterando diversas normas sobre o setor. A norma atribuiu mais poder à ANTAQ e trouxe novas regras sobre concessões e arrendamentos portuários, inclusive dos chamados Terminais de Uso Privado (TUP), localizados fora dos portos organizados. Com a promessa de ampliar, modernizar e desburocratizar o sistema portuário brasileiro, a lei ainda não produziu os efeitos desejados no cais santista. Contudo, é possível vislumbrar que, caso a economia se recupere, a disseminação dos TUPs, concomitante ao processo de abertura do capital da CODESP, consolide o modelo de fragmentação espacial do Porto, aprofundando as dificuldades de controle dos impactos ambientais dos terminais e levando para esferas ainda mais distantes o processo decisório sobre os investimentos no complexo. Talvez esse novo modelo se constitua numa atualização do episódio dos trapiches, contrariando os interesses da população local, sob o comando transnacional e, portanto, criando obstáculos ainda maiores à desejável integração entre porto e cidade.