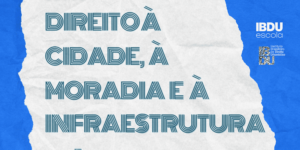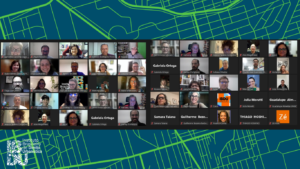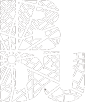O seminário De Olhos Bem Abertos, promovido pelo Nuances – Grupo pela Livre Expressão Sexual com apoio do IBDU – Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, fez um balanço sobre a relação entre cidadania LGBTQI e democracia no Brasil. O evento aconteceu nos dias 28 e 29 de junho, no marco comemorativo aos 50 anos da revolta de Stonewall, e evidenciou a importância do combate à violência e da visibilidade para o exercício pleno de direitos nas cidades.
Por: Sinara Sandri

O IBDU apoiou o evento como parte das atividades do projeto Apoio às Marielles do Brasil cujo objetivo é compreender e capacitar os grupos mais vulneráveis a violações do Direito à Cidade – mulheres negras, jovens da periferia e pessoas LGBTs – exercerem sua cidadania.
A diretora-geral do IBDU, Betania Alfonsin, participou do debate e enfatizou a contribuição das lutas LGBTI tanto para construção da democracia, quanto para constituição de um paradigma de urbanização que pode resultar em cidades mais justas. Ela lembrou que assim como Stonewall representa um marco de resistência, a obra de Henri Lefebvre Direito à Cidade, lançada em 1968, constitui uma plataforma de luta para o exercício dos Direitos Humanos no território da cidade. Além de conformar uma referência de utopia como contraponto à financeirização da cidade, a obra estabelece o direito ao desfrute da cidade como bem comum.
Dessa forma, o uso do território da cidade como arena política para reivindicar o direito ao exercício da sexualidade é uma consequência de Stonewall que dialoga diretamente com as reivindicações por moradia, lazer, mobilidade e participação nos processos de decisão. Pela avaliação da especialista, a ampliação dos direitos de cidadania LGBTI acresce o direito à cidade em um processo de reforço mútuo em que a democracia sai fortalecida.
“A população LGBTI é um ator central para democracia no Brasil. Essa luta não melhora apenas a vida destes setores, melhora o país como um todo”, disse Betânia.
Para a diretora do IBDU, os movimentos no Brasil se alinham aos que ocorrem mundialmente e colocam em cheque os estereótipos de gênero e a heteronormatividade compulsória. Em manifestações públicas, estes grupos exercem o direito de aparecer e expressar sua sexualidade, exigindo condições mais suportáveis de vida cidadã nas áreas urbanas. Neste contexto, as Paradas são momentos onde as ruas são tomadas por pessoas que instauram o corpo no meio do cenário político e conseguem inscrever alguns “territórios livres” para LGBTs nas cidades. A consequência é que ao tornar-se visível, a comunidade expõe corpos que atestam a hierarquização do espaço e demonstram uma ordem de desvantagens impostas pela lógica de financeirização da cidade, dando oportunidade para evidenciar setores da população particularmente afetados pelas violações de direitos e que merecem prioridade nas políticas de combate à violência e às restrições à fruição da cidade.
Visibilidade e democracia
Reconhecimento e respeito são demandas antigas da comunidade LGBTI. No painel de abertura do seminário, Marisa Fernandes (fundadora do Grupo Somos SP e do Coletivo de Feminista Lésbicas) e João Silvério Trevisan (escritor e ativista) fizeram uma retrospectiva histórica do movimento no Brasil. Ao trazer uma pauta inédita e progressista – já que, até aquele momento, a homossexualidade era vista como doença -, sua agenda foi marcada pela luta por espaço e visibilidade.

Marisa Fernandes assinalou que, no final da década de 70, surgiram grupos com distintos matizes ideológicos e houve dificuldade para incorporação das lésbicas. Para reivindicar respeito e liberdade para existir, as ativistas falavam em direito ao prazer e ao gozo. O discurso teve boa receptividade entre mulheres da periferia e desmistificou a ideia de que, naquela faixa de renda, o interesse estava restrito a questões básicas como saneamento. Segundo Fernandes, a sexualidade era um tema que dialogava com populações vulneráveis e a reação contra a violência sexual unificou distintos setores, aproximando também do movimento negro e feminista.
“Eram lutas por espaços de legitimação. Com passar do tempo, nos tornamos sujeitos políticos e buscamos direitos”, disse Fernandes.
Para Trevisan, a fase inicial do movimento deveria ser considerada como um ato de resistência de setores que sofriam uma exclusão extrema e não tinham alternativa de ação política. Além de uma falta de conceitos próprios, os ativistas brasileiros enfrentavam o rechaço da esquerda. O escritor morou no Estados Unidos depois de Stonewall e observou que a rebelião ocorreu no contexto da contracultura, reunindo grupos pacifistas, ecologistas e anarquistas com um forte clima de solidariedade. Na sua percepção, a radicalidade nascia no próprio modo de vida das pessoas. Já no Brasil, havia uma recusa em discutir sexualidade porque o tema não tinha grande significado na sociedade onde os ativistas já estavam integrados.
As questões relacionadas ao modo de vida e expressão sexual eram consideradas lutas menores e inoportunas, reduzindo a importância recebida na pauta dos movimentos. De certa forma, o mesmo equívoco na avaliação da centralidade política do tema se repete atualmente quando as manifestações e proposições conservadoras de membros do governo federal são entendidas como “cortina de fumaça” para desviar a opinião pública da pauta econômica.
“Éramos pessoas isoladas, fragilizadas que buscavam uma linguagem própria para poder participar de uma sociedade que não nos queria e que, no limite, queria nos matar ou nos fazer adoecer. Naquele momento, nosso compromisso era com o nosso amor e com nossa sobrevivência”, disse Trevisan.
Para o escritor, a comunidade LGBT no Brasil vive um momento diferente e ocupa as ruas com atos de que demonstram profunda consciência política. Na sua opinião, a conjuntura exige que as estratégias sejam repensadas sem ufanismo e sem a ilusão de que o movimento havia “conquistado o paraíso”. Em resposta ao depoimento de uma participante, Trevisan lembrou que as situações individuais são sempre muito penosas, mas que é possível vencer o isolamento e encontrar solidariedade ao compreender que as histórias não são vividas isoladamente. Nesse encontro de trajetórias comuns, as vivências se reforçam e se potencializam, principalmente, em atos que ampliam a visibilidade destes sujeitos políticos.
Rumos
A violência foi o estopim da revolta de Stonewall em Nova York e continua sendo uma das principais ameaças ao exercício da cidadania LGBTQI no Brasil. O número de mortes e o incremento dos discursos de ódio preocupam a comunidade. A ativista de Direitos Humanos, Mônica Benício, participou do debate e fez um apanhado sobre as situações de violência e impunidade, em especial o assassinato de sua companheira, a vereadora Marielle Franco.

Na sua avaliação, o descaso com corpos não normativos alimenta crimes cujo objetivo é tentar barrar o crescimento político destas populações e impor o medo. Nem o status de poder foi capaz de proteger Marielle. O recado deles é claro: não queremos nada parecido com ela no poder, disse Mônica.
A ativista apresentou números dramáticos sobre a situação de violência no país e lembrou que o caso de Marielle é simbólico e deve servir para evitar que outros corpos continuem sendo considerados descartáveis e vitimados por crimes impunes.
“Nós ressignificamos o corpo da Marielle. Por empatia, ninguém quer sofrer o que ela sofreu e temos que aproveitar agora que esta janela está aberta para virar esse jogo. A revolução se faz na rua. Nós provocamos a reação destes setores conservadores”, disse Mônica.
A disposição de reforçar a organização e buscar novas formas e diálogo foi reiterada durante o encontro. Para alguns, os temas que estavam restritos às periferias atingiram a intelectualidade e populações de centros urbanas. Daiana Santos (sanitarista, militante Liga Brasileira de Lésbicas) e Lins Robalo (grupo Girassol – São Borja / RS) assinalaram que o momento é uma oportunidade para construir coletivos, enfrentar o discurso da violência e conversar com juventude. Júlio Bittencourt – homem trans, membro do grupo Homens Trans em Ação (HTA) lembrou que questões de acesso a serviços de saúde são centrais e que os discursos oficiais devem ser combatidos pois “o que afeta nossas vidas não é cortina de fumaça”.
Estratégias
As reflexões feitas durante o seminário estiveram tensionadas pela tentativa de responder a pergunta de como constituir uma luta comum e evitar a dispersão dos movimentos em uma conjuntura política desfavorável. Os participantes concordam com a necessidade de pressionar o Estado por respostas às demandas da comunidade. Para o coordenador do grupo Nuances, Célio Golin, não bastasse o fato da população LGBTI ser particularmente vulnerável a uma série de violações de direitos, ainda precisa enfrentar o descaso do poder público bem exemplificado nas dificuldades e obstáculos ao acesso ao sistema de saúde. Na sua opinião, é preciso reivindicar prioridade nas políticas públicas como forma de compensar esta desigualdade já que o Estado e a sociedade não podem desconhecer a situação desfavorável enfrentada por estes grupos.
Paulo Mariante, integrante do Grupo Identidade (Campinas) avaliou a interface do movimento LGBTI com o legislativo e judiciário e concluiu que embora a homossexualidade tenha deixado de ser crime no Brasil ainda no século XIX, o aparato jurídico do país é ainda insuficiente para garantir direitos. Para piorar, a correlação de forças ficou ainda mais desfavorável no último período. Houve crescimento da bancada conservadora e o legislativo se tornou mais resistente às demandas e, em muitos casos, tenta impor recuos. Dessa forma, é preciso estar atento às estratégias que resultam em colaboração com o governo.
“Obrigar a invisibilidade e negar a nossa existência é uma forma de nos matar. É vergonhoso se aliar ou colaborar com quem quer nos matar”, disse Paulo.
Keila Simpson, presidente da ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), alerta para que o movimento evite dar notoriedade a personagens envolvidos com pautas conservadoras, em uma atitude que pode ser inclusive evitar reagir em algumas circunstâncias. Ela também foi bastante crítica a participação em iniciativas que legitimam políticas oficiais contrárias aos interesses dos grupos LGBTs e aposta nas ações individuais e nas relações interpessoais para constituir espaços mais favoráveis.
Ao entender o corpo como um marcador político, eles apontam a necessidade de pensar na segurança e no autocuidado individual e coletivo cotidianamente. Apoiar-se mutuamente e refletir sobre identidades possíveis e sobre a constituição de dispositivos que permitam se aproximar de outras pessoas são partes da estratégia. As falas reafirmaram a presença do desejo na pauta política e parecem indicar que estão prontos a assumir a proposta de Júlio Bittencourt de substituir o sofrimento pela liberdade como marco de identidade.

A grande mensagem dos ativistas reunidos em Porto Alegre é a disposição de não retroceder na presença no espaço público nem voltar a uma vida de isolamento. Ao reivindicar um lugar central na agenda política, a população LGBTQI pressiona pelo exercício coletivo do direito à cidade e fortalece a democracia. Contribuição extremamente necessária neste momento de desafios históricos para o Brasil.